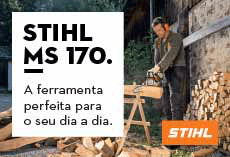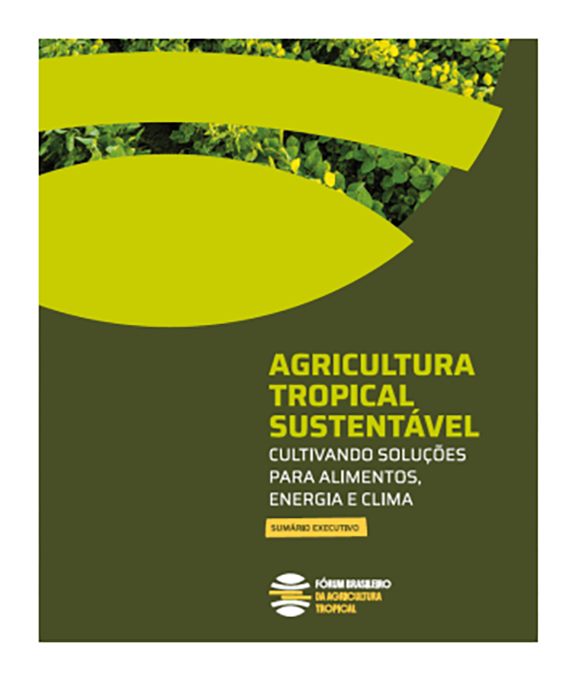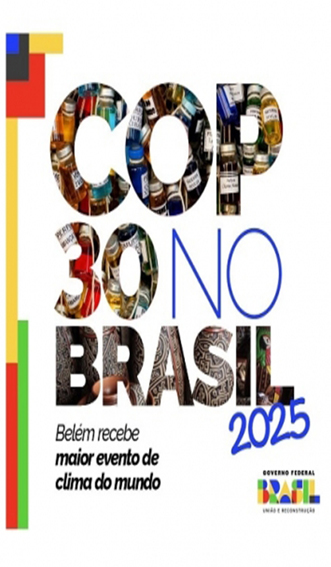Estamos transcrevendo abaixo a íntegra do Sumário Executivo do Fórum de Agricultura Tropical, produzido pela equipe liderada por Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Enviado Especial para Agricultura na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30 e, segundo a revista Forbes, ele será a “Voz do Agronegócio Universal na COP30”.
O Fórum Brasileiro da Agricultura Tropical apresenta o documento AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTÁVEL: cultivando soluções para alimentos, energia e clima. Uma contribuição estratégica às discussões globais sobre segurança alimentar, transição energética e ação climática.
O documento propõe um novo olhar sobre os trópicos: que reconhece o papel central da agricultura na construção de um futuro sustentável, resiliente e inclusivo. A partir de uma análise fundamentada em ciência, inovação e políticas públicas, o documento traça um caminho baseado em adaptação e mitigação, capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Onde houver fome, não haverá paz.
ABERTURA

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes) – COP30 que acontece em novembro em Belém do Pará não é uma COP do Brasil e nem da agricultura. É mais uma COP buscando mecanismos que evitem o aquecimento global. Por essa razão é frequente o questionamento quanto às “vantagens” que a agropecuária e/ou o agronegócio brasileiro poderiam obter em participar das discussões que ocorrerão no evento. Trata-se de uma temática muito mais profunda do que aparenta, e vários pontos devem ser destacados.
O primeiro deles tem a ver com a perda de protagonismo das organizações multilaterais, que tem causado uma certa perda de valores e direção para a Humanidade. Sem punição para provocações que causam guerras ou destroem a democracia pelo mundo afora, vai sendo articulada uma situação de incerteza geral quanto ao futuro, uma certa insegurança de caráter geopolítico e até mesmo a sensação de uma nova “desordem” internacional.
Não faltam os arautos de que este cenário seria ameaça à paz mundial. E este é um tema que deveria empolgar todos os povos: lutar para garantir a paz mundial! Não pode haver maior questão para a contemporaneidade. Garantir a paz é a ambição máxima que todo e qualquer cidadão de todo e qualquer rincão deste vasto mundo deve buscar! Paz no presente e para o futuro.
Ninguém deveria sequer aceitar discutir: filhos e netos sem paz? Absurdo! Esta deveria ser a bandeira maior para todos os líderes de todos os calibres e funções. Pois bem, há um componente óbvio nesta busca: não haverá paz onde houver fome. A história universal está cheia de comprovações de guerras provocadas pela fome. Portanto, a segurança alimentar é uma condição essencial para evitar a guerra.
Por outro lado, a necessidade de matriz energética renovável e com menor impacto na emissão de gases de efeito estufa vem sendo perseguida há tempos. E a desigualdade social vem se transformando num fator de desesperança em todos os continentes, provocando ondas de imigração e o crescimento de insegurança pública. É essencial enfrentar esta problemática com o mesmo vigor e determinação com que se enfrentam as mudanças climáticas.
Os 4 pontos estão interconectados. Para que a paz seja alcançada em sua plenitude, a Humanidade deve se unir com firmeza em torno de segurança alimentar para todos, transição energética para maior sustentabilidade, gerando empregos e renda nas regiões mais pobres para reduzir a desigualdade social, e fazer tudo isso a partir da atividade agropecuária regida pela ciência e pelas inovações tecnológicas.
Este horizonte terá sua maior plenitude no cinturão tropical do planeta. América Latina, África subsaariana e parte da Ásia são as regiões onde existe terra para aumentar a área plantada e onde o padrão tecnológico ainda é baixo. Nesta grande faixa territorial é que vai acontecer o maior processo de produção agropecuária tropical sustentável que evitará guerras fratricidas de qualquer ordem. E o Brasil é o país que desenvolveu a tecnologia tropical sustentável que pode ser replicada em toda esta faixa.
Por isso a COP 30 é importante para a agropecuária brasileira e mundial: o mundo estará de olho no Brasil e este grande aparato tecnológico deve ser demonstrado à exaustão. Tudo o que foi aqui desenvolvido nos últimos 50 anos – de um país que importava 30% da alimentação consumida internamente nos anos 70 do século passado para um país que exporta produtos agrícolas para mais de 190 outros – deve ser mostrado, explicado e ter sua aplicação explicitada para o cinturão tropical.
Com isso, o Brasil pode deixar um legado inestimável para a Humanidade: sua produção agropecuária replicada será o seguro contra a insegurança, a fatura da Paz, com P maiúsculo! O segundo ponto da temática da COP é a determinação de seu Presidente, o Embaixador André Correa do Lago, de implementar as decisões desta COP e das anteriores na defesa da soberania dos povos.
Em seu ano inteiro de mandato até a próxima COP, a de número 31, ele buscará todos os meios possíveis para esta implementação. Com estes dois pontos, fica claro o possível legado do Brasil a partir da COP30: ser o paladino da Paz Mundial. Roberto Rodrigues Enviado Especial da Agricultura para a COP30.
COLABORADORES
Esta publicação foi elaborada com a colaboração de instituições de referência no agronegócio brasileiro, entre elas associações setoriais, centros de pesquisa e especialistas das mais diversas áreas do setor.
ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio
ABCA – Academia Brasileira de Ciência Agronômica
ABCZ – Associação Brasileira de Criadores de Zebu
ABIA – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos
ABIEC – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne
ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
ABIOGÁS – Associação Brasileira do Biogás
ABIOVE – Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
ABISOLO – Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal
ABPA – Associação Brasileira de Proteína Animal
ABRAMILHO – Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo
ABRAPA – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
ABRASEM – Associação Brasileira de Sementes e Mudas
AGROICONE
ANDA – Associação Nacional para Difusão De Adubos
ANDAV – Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários
ASBRAER – Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária
CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil C
OALIZAÇÃO BRASIL CLIMA, FLORESTAS E AGRICULTURA
CROPLIFE BRASIL
EMBRAPA
FAESP – Federação da Agricultura do Estado de São Paulo
FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
FUNDAÇÃO DOM CABRAL
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV Agro e FGV Bioeconomia)
IAC – Instituto Agronômico IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores Insper Agro Global
Instituo Arapyaú Instituto Equilíbrio
IPA – Instituto Pensar Agropecuária
IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
MAPA – Ministério Agricultura e Pecuária
MBPS – Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável
OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras
SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal
SRB – Sociedade Rural Brasileira UNICA – União Da Indústria de Cana-de-Açúcar
FEBRAPDP – Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto.
O QUE É O FÓRUM BRASILEIRO DA AGRICULTURA TROPICAL?
Iniciativa que reúne centros de pesquisa, instituições de referência, representantes do setor produtivo e especialistas de múltiplas áreas para posicionar a agricultura tropical como pilar das soluções climáticas globais na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) e além dela. Proposto pela FGV Agro e FGV Bioeconomia, o Fórum constitui-se como um espaço de articulação técnica, diálogo interinstitucional e formulação de propostas, com foco em posicionar a agricultura tropical como eixo estruturante das soluções globais para a crise climática, a segurança alimentar e a transição energética, reconhecendo a singularidade, a inovação e a sustentabilidade dos sistemas produtivos tropicais. Embora criado para a COP30, o Fórum tem atuação permanente, apoiando políticas públicas, marcos regulatórios e a liderança do Brasil na agricultura tropical sustentável — de baixo carbono, resiliente e inclusiva.
SUMÁRIO EXECUTIVO A TRAJETÓRIA DA AGRICULTURA TROPICAL BRASILEIRA
Da exploração colonial ao fortalecimento institucional, a agricultura brasileira passou por profundas transformações até consolidar uma política agrícola nacional capaz de integrar inovação, crédito, extensão rural e sustentabilidade às condições tropicais do país. Até meados do século XX, a agricultura brasileira ainda carregava as marcas de sua herança colonial. Sistemas extensivos, baixa produtividade, desigualdades regionais profundas e forte dependência de importações de insumos e alimentos básicos definiam o setor.
O Cerrado, com seus 204 milhões de hectares, era considerado impróprio para o cultivo devido à acidez dos solos, ao excesso de alumínio e à baixa fertilidade natural. A rápida urbanização dos anos 1960 ampliou a demanda por alimentos, levando o país a recorrer com frequência ao mercado externo para suprir necessidades básicas4,5,6. Foi nesse contexto que o Brasil iniciou a estruturação de suas primeiras políticas agrícolas modernas.
A criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 19657 introduziu instrumentos de financiamento com juros subsidiados, lançando as bases de uma política agrícola nacional. Em 1973, a fundação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) marcou o início de uma revolução científica voltada para os trópicos, herdando cerca de 70 estações experimentais e consolidando rapidamente sua presença no país.
No mesmo período, o cooperativismo ganhou projeção nacional com a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) em 1969 e da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) em 1975, enquanto o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), lançado em 1975, posicionou o Brasil como pioneiro em biocombustíveis, antecipando debates sobre transição energética décadas antes de se tornarem globais.
A década de 1980 marcou o início da Revolução Tropical, quando a ciência brasileira passou a apresentar resultados concretos. Tecnologias como calagem em larga escala, adubação fosfatada, fixação biológica de nitrogênio (FBN), melhoramento genético e adaptação de plantas e animais às condições tropicais transformaram o Cerrado de área improdutiva em motor da produção nacional8. Essa trajetória contrastou com outras regiões tropicais.
Na África Subsaariana, a ausência de instituições de pesquisa e de políticas estruturadas manteve sistemas extensivos de baixa produtividade, agravados pela erosão e pela perda de fertilidade dos solos2. O limitado alcance da Revolução Verde na região é evidenciado pela estagnação da produtividade total dos fatores agrícolas desde a década de 1960, em contraste com a evolução bem acima da média global observada na América Latina e na Ásia — com o Brasil à frente desse processo. Já na Ásia, a Revolução Verde concentrou–se no arroz e no trigo irrigados, culturas adaptadas a solos férteis e a sistemas de irrigação já existentes, condições muito distintas das enfrentadas no Cerrado brasileiro.
Nas décadas seguintes, consolidou-se um modelo singular de agricultura tropical no Brasil, fruto de uma transformação profunda e sem precedentes, moldada pela combinação entre ciência tropical, políticas públicas e o espírito empreendedor dos produtores rurais. Esse processo de modernização tornou o país uma potência agroambiental, capaz de unir alta produtividade, inovação
tecnológica e sustentabilidade em larga escala. A ocupação produtiva do Cerrado, impulsionada por pesquisa agropecuária e pela adaptação de cultivares ao ambiente tropical, foi um divisor de águas. A expansão da soja, do milho e da pecuária revelou o potencial dos trópicos para produzir em harmonia com o meio ambiente.
O diferencial da agricultura brasileira, no entanto, está na diversificação produtiva, expressa na ampla variedade de culturas, sistemas e biomas agrícolas. Hoje, o Brasil é produtor de centenas de alimentos, abrangendo desde grandes commodities até cadeias de alto valor agregado, como frutas, hortaliças, fibras, oleaginosas, café, cacau e produtos florestais. Essa pluralidade não é apenas um ativo econômico, mas uma estratégia de futuro: o caminho para uma agricultura tropical resiliente, inovadora e sustentável.
O resultado dessa trajetória de transformações é notável. Nas últimas três décadas, a produção de grãos no Brasil cresceu 494,8%, passando de 58 para 345 milhões de toneladas, enquanto a área cultivada aumentou 115,8%, de 38 para 82 milhões de hectares, considerando área plantada que contempla primeiras, segundas e terceiras safras, a depender do produto. Esse avanço reflete os expressivos ganhos de produtividade, que permitiram uma “poupança de área” estimada em 144 milhões de hectares — o equivalente a 1,8 vezes a atual área cultivada com grãos.
O melhoramento de raças zebuínas e de pastagens permitiu que o rebanho bovino mais que dobrasse em quatro décadas, sem ampliar significativamente a área ocupada, consolidando o Brasil como 2º maior produtor e principal exportador mundial de carne bovina. Na avicultura, o país teve um salto expressivo de produção, alcançando a liderança global nas exportações de carne de frango. A suinocultura também avançou com inovações genéticas e de manejo, posicionando o Brasil como 4º maior produtor e exportador mundial.
Na pecuária, mesmo com a área de pastagens mantendo-se relativamente estável entre 160 e 190 milhões de hectares, a produção de carne bovina aumentou mais de 240%, passando de cerca de 3,5 milhões para 12 milhões de toneladas equivalentes de carcaça (TEC). O chamado “efeito poupa-terra acumulado” chega a 397 milhões de hectares, área que teria sido necessária para sustentar os níveis atuais de produção caso a produtividade tivesse permanecido nos patamares de 1990 — o equivalente a aproximadamente 2,5 vezes a área atual de pastagens do país.
Um em cada quatro produtos do agro no mundo é brasileiro. Essa relevância projeta o país como referência em soluções que conciliam produtividade com sustentabilidade, inovação com inclusão e desenvolvimento com transição energética. O país figura entre os maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos, fibras e bioenergia, liderando mercados como soja, açúcar, café, suco de laranja e celulose. Essa capacidade produtiva se apoia em uma estrutura agropecuária diversa, que vai desde pequenas propriedades da agricultura familiar, produtores médios até grandes empreendimentos tecnificados, fortemente conectados aos mercados internacionais.
Em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio alcançou R$ 2,72 trilhões sendo R$ 1,9 trilhão da agricultura e R$ 819,26 bilhões da pecuária, com participação de 23,2% na economia nacional11. Entre janeiro e novembro do mesmo ano, as exportações do setor somaram US$ 152,63 bilhões, o que corresponde a 48,9% do total exportado pelo país, lideradas pelo complexo soja (US$ 52,19 bilhões), carnes (US$ 23,93 bilhões) e complexo sucroalcooleiro (US$ 18,27 bilhões).
A agricultura brasileira também é decisiva para a sustentabilidade energética: a matriz brasileira mantém 49% de fontes renováveis, índice três vezes superior à média global de 15%, sendo cerca de 30% provenientes diretamente do agronegócio. A integração entre cadeias de alimentos e bioenergia fortalece a produção e amplia benefícios conjuntos, evitando a competição pelo uso da terra. Essa sinergia projeta o Brasil como liderança global, articulando segurança alimentar, climática e energética em uma mesma agenda estratégica.
A agricultura brasileira também é decisiva para a sustentabilidade energética: a matriz brasileira mantém 49% de fontes renováveis, índice três vezes superior à média global de 15%, sendo cerca de 30% provenientes diretamente do agronegócio. A integração entre cadeias de alimentos e bioenergia fortalece a produção e amplia benefícios conjuntos, evitando a competição pelo uso da terra. Essa sinergia projeta o Brasil como liderança global, articulando segurança alimentar, climática e energética em uma mesma agenda estratégica.
Atualmente, o setor agrícola brasileiro vive uma nova transformação, impulsionada pela adoção de tecnologias e práticas regenerativas que combinam sistemas agroflorestais e sistemas integrados de produção de alimentos e energia. Mais do que ampliar a produtividade, essa transição busca restaurar a saúde dos solos, conservar a biodiversidade e fortalecer a resiliência dos sistemas produtivos, tornando-os capazes de operar com baixas ou neutras emissões de carbono e, em muitos casos, remover mais carbono da atmosfera do que emitem.
As prioridades nacionais também incluem a gestão integrada da paisagem, que considera as relações entre desmatamento, conservação da biodiversidade e produção agrícola, e reconhece que a adaptação climática depende diretamente da preservação dos ecossistemas naturais. As florestas e a vegetação nativa desempenham papel essencial na regulação dos microclimas, na manutenção dos padrões de precipitação e na sustentação da produtividade agrícola, evidenciando que estratégias eficazes de adaptação devem estar profundamente ligadas à conservação dos serviços ecossistêmicos e à integração entre floresta, clima e produção.
A SUSTENTABILIDADE COMO JORNADA DA AGRICULTURA BRASILEIRA
A trajetória da agricultura brasileira tem sido marcada por uma jornada contínua em direção à sustentabilidade, guiada por políticas públicas que, em diferentes momentos, consolidaram esse compromisso como eixo estratégico do setor. Um marco fundamental dessa trajetória é o Código Florestal, instituído em 1965 e atualizado em 2012.
Considerado um dos mais abrangentes marcos legais ambientais do mundo, o Código estabelece instrumentos como as Áreas de Preservação Permanente (APPs), as Reservas Legais e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que alinham a produção agropecuária à conservação dos recursos naturais. Ao definir regras claras para a proteção da vegetação nativa e mecanismos de regularização ambiental, o Código Florestal tornou-se referência internacional na conciliação entre uso produtivo do solo e preservação, consolidando um marco jurídico que orienta a agricultura brasileira há mais de meio século.
Na esteira desse marco regulatório, o Plano ABC e seu sucessor, o ABC+, consolidaram a agenda de baixo carbono no campo, incentivando práticas sustentáveis como a recuperação de pastagens degradadas, a fixação biológica de nitrogênio, a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e o plantio direto. Na mesma direção, o Programa Nacional de Bioinsumos vem promovendo o uso de soluções biológicas inovadoras, que reduzem custos de produção e impactos ambientais, fortalecendo a transição para uma agricultura mais eficiente e regenerativa.
Na integração da agricultura com a bioenergia, a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) promove a certificação da produção, incluindo critérios de elegibilidade ambiental da biomassa que inclui o desmatamento zero, a rastreabilidade e medição de indicadores de sustentabilidade para o sistema produtivo, gerando a pegada de carbono em todo o ciclo de vida do biocombustível.
O Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), por sua vez, representa um avanço importante ao reconhecer economicamente a conservação de ecossistemas, inclusive por comunidades tradicionais que desempenham papel essencial na manutenção da biodiversidade.
Já o Agro + Sustentável reforça essa agenda, ao promover gestão responsável, rastreabilidade e certificações de boas práticas agroambientais. Complementam esse conjunto de políticas o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, que visa preparar o setor agropecuário para eventos climáticos extremos, e o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis (PNCPD) — posteriormente rebatizado como Caminho Verde Brasil, voltado à restauração produtiva de áreas degradadas e à ampliação da resiliência dos sistemas agrícolas.
Essa caminhada é também social. Programas como o Pronaf, o seguro agrícola e a assistência técnica fortalecem a agricultura familiar, responsável por 76,8% dos estabelecimentos rurais e 23% do Valor Bruto da Produção Agropecuária, além de desempenhar papel estratégico em cadeias como mandioca, leite, frutas tropicais e horticultura. Nesse contexto, o cooperativismo se destaca como uma das principais forças de integração e inclusão no campo.
Ao articular crédito, assistência técnica e acesso a mercados, o modelo cooperativo amplia oportunidades, reduz desigualdades e fortalece a resiliência das comunidades, equidade e crescimento com sustentabilidade — um verdadeiro patrimônio institucional do Brasil e exemplo inspirador de como a união pode transformar realidades. Por sua vez, os produtores de maior escala, altamente tecnificados, ampliam a presença internacional do Brasil e complementam o abastecimento interno.
Juntos, agricultura familiar, cooperativas e grandes produtores formam um mosaico de sistemas produtivos coexistentes, que confere dinamismo, competitividade e resiliência ao setor agropecuário brasileiro.
Ao reconhecer sua pluralidade e investir em ciência, inovação e políticas consistentes, o Brasil demonstra que é possível conciliar competitividade, conservação ambiental e inclusão social em um modelo agrícola tropical único. Mais do que atender à demanda interna e externa, essa experiência oferece ao mundo soluções tropicais de baixo carbono, capazes de inspirar uma agropecuária que une produtividade, sustentabilidade e desenvolvimento humano.
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA AGRICULTURA TROPICAL
A agricultura tropical está no centro dos grandes desafios do nosso tempo — da segurança alimentar e energética à estabilidade climática e à justiça social. A agricultura tropical enfrenta um conjunto de desafios estruturais e interconectados que definem o século XXI. Embora a produção global de alimentos seja suficiente para alimentar toda a humanidade, 673 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar, não por escassez, mas por distribuição desigual, desperdício sistemático e pela intensificação dos eventos climáticos.
Ao reconhecer sua pluralidade e investir em ciência, inovação e políticas consistentes, o Brasil demonstra que é possível conciliar competitividade, conservação ambiental e inclusão social em um modelo agrícola tropical único. Mais do que atender à demanda interna e externa, essa experiência oferece ao mundo soluções tropicais de baixo carbono, capazes de inspirar uma agropecuária que une produtividade, sustentabilidade e desenvolvimento humano.
Nos países tropicais, esse paradoxo ganha contornos ainda mais dramáticos: a forte vocação exportadora convive com a urgência de garantir soberania alimentar às populações locais, enquanto a dependência de combustíveis fósseis expõe toda a cadeia produtiva a oscilações nos preços de energia, encarecendo fertilizantes, transporte e armazenamento2. As mudanças climáticas aprofundam essas vulnerabilidades de forma desproporcional.
Secas prolongadas, alterações nos padrões de chuva, oscilações extremas de temperatura, degradação dos solos e intensificação de pragas atingem com mais força justamente as regiões e as pessoas que já vivem em situação de maior fragilidade. Essas pressões ambientais se entrelaçam com desigualdades estruturais profundas. A concentração fundiária, o acesso desigual a crédito e tecnologia, e a exclusão histórica de agricultores familiares, mulheres, jovens, comunidades tradicionais e povos indígenas limitam a capacidade coletiva de adaptação. Sem enfrentar essas assimetrias, não haverá transição justa nem soluções duradouras.
O PLANO ABC COMO MARCO DA TRANSIÇÃO PARA AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO
O Brasil consolidou-se como referência global em agricultura de baixo carbono ao estruturar políticas pioneiras como o Plano ABC e o ABC+, que combinam ciência, inovação e políticas públicas para reduzir emissões, recuperar áreas degradadas e fortalecer a resiliência climática no campo. Diante desse cenário interconectado, a experiência brasileira demonstra que é possível construir respostas integradas e transformadoras.
Ao alinhar produtividade, conservação ambiental e inclusão social, o Brasil consolidou um modelo no qual adaptação e mitigação caminham juntas. A adaptação às mudanças climáticas ocupa posição central ao garantir estabilidade produtiva, segurança alimentar e energética e reduzir vulnerabilidades sociais. A mitigação torna-se consequência direta de sistemas adaptativos bem estruturados: práticas que fortalecem a resiliência produtiva também reduzem emissões e ampliam o sequestro de carbono, consolidando a contribuição da agricultura tropical às metas climáticas globais.
Essa trajetória consolida o papel estratégico dos países tropicais na construção de soluções globais, articulando segurança alimentar, energética, climática e social em um único horizonte de futuro sustentável. Um marco decisivo nesse processo foi o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC), uma iniciativa pioneira que estruturou ações estratégicas para a adoção de tecnologias sustentáveis. O plano estabeleceu diretrizes voltadas à redução das emissões de GEE e ao fortalecimento da resiliência do setor agropecuário sem comprometer a produtividade.
O Plano ABC foi estruturado em sete programas principais, sendo seis voltados à mitigação e um à adaptação: recuperação de pastagens degradadas (RPD); integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e sistemas agroflorestais (SAF); sistema de plantio direto (SPD); fixação biológica de nitrogênio (FBN); expansão de florestas plantadas (FP); tratamento de dejetos animais; e ações específicas de adaptação às mudanças climáticas. Entre 2010/2011 e 2019/2020, o plano alcançou praticamente todas as metas de expansão e mitigação, resultando em 53,76 milhões de hectares sob tecnologias sustentáveis e mitigação estimada em 192,65 milhões de toneladas de CO₂ equivalente entre 2010 e 2020.
Os resultados evidenciam a eficácia dessa política pública e reforçam o potencial do Brasil para implementar compromissos nacionais de redução de emissões líquidas. Áreas com RPD cresceram 66% e com ILPF, 86%, com taxas médias anuais de expansão de 7,5% e 9,2%, respectivamente.
O sucesso do Plano ABC impulsionou o lançamento do Plano ABC+ (2020-2030), que amplia e aperfeiçoa essa política setorial, reforçando o compromisso do Brasil com uma agricultura sustentável, resiliente e de baixo carbono. O novo plano tem como objetivo aumentar a eficiência dos sistemas produtivos, promover a adaptação climática e controlar as emissões de GEE por meio de uma abordagem integrada da paisagem.
Entre suas metas estratégicas destacam-se: ampliar em 72,68 milhões de hectares a adoção de Sistemas Produtivos Sustentáveis (SPS-ABC); aumentar em O ABC+ adota uma abordagem diferenciada por bioma, contemplando todos os perfis de produtores, desde agricultores familiares até grandes agroindústrias.
O plano introduz conceitos inovadores como a Abordagem Integrada da Paisagem (AIP), os próprios Sistemas Produtivos Sustentáveis (SPS-ABC) e os produtos certificados de baixo carbono, todos baseados em evidências científicas e em revisões periódicas. As práticas preconizadas pelo Plano ABC+ têm potencial para mitigar até 1 gigatonelada de CO₂ equivalente até 2030, fortalecendo a transição para uma agricultura de baixo carbono por meio da disseminação de sistemas, práticas, produtos e processos sustentáveis.
PROTEGER SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS PARA PRODUZIR COM RESILIÊNCIA
A agricultura tropical brasileira reconhece que a produtividade sustentável depende, totalmente, dos serviços ecossistêmicos. O manejo conservacionista do solo, que inclui práticas como plantio direto, terraceamento e cobertura permanente, fortalece a capacidade de retenção de água, reduz a erosão e aumenta a atividade biológica, tornando os sistemas agrícolas mais resilientes a eventos climáticos extremos. A gestão eficiente da água complementa esse avanço.
Tecnologias de irrigação de precisão, sensores de umidade e plataformas digitais otimizam o uso da água, ampliam a produtividade e reduzem riscos em períodos de estiagem, consolidando a segurança alimentar sem necessidade de expansão de fronteiras18-22. A proteção das florestas e da biodiversidade fecha esse tripé de conservação. Instrumentos como o Código Florestal, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) estabeleceram governança territorial robusta.
Terras Indígenas e Unidades de Conservação demonstram efetividade na contenção do desmatamento. Essa estratégia é reforçada por financiamento climático e mecanismos internacionais como o REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), que valoriza economicamente a conservação
SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS: INTENSIFICAR SEM EXPANDIR
Ao integrar tecnologia, genética e manejo inteligente para elevar a produtividade sem expandir a fronteira agrícola, a intensificação sustentável preserva os serviços ecossistêmicos, fortalece a resiliência dos sistemas produtivos, reduz emissões e consolida a agropecuária como vetor estratégico de segurança alimentar e ação climática. A intensificação sustentável tornou-se estratégia central para ampliar a produção sem pressionar ecossistemas naturais.
Agricultura de precisão, melhoramento genético e biotecnologia elevam a eficiência por hectare, enquanto os sistemas integrados de produção, que podem combinar lavoura, pecuária e floresta em uma mesma área, recuperam solos degradados, diversificam renda e sequestram carbono.
A pecuária regenerativa transforma passivos em ativos produtivos: a recuperação de pastagens degradadas pode dobrar ou triplicar a produtividade, enquanto a terminação intensiva acelera a engorda de florestas. A rastreabilidade das cadeias produtivas e critérios de desmatamento zero consolidam a integração entre produção e conservação, fortalecendo a contribuição da agricultura tropical à estabilidade climática global.
SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS: INTENSIFICAR SEM EXPANDIR
Ao integrar tecnologia, genética e manejo inteligente para elevar a produtividade sem expandir a fronteira agrícola, a intensificação sustentável preserva os serviços ecossistêmicos, fortalece a resiliência dos sistemas produtivos, reduz emissões e consolida a agropecuária como vetor estratégico de segurança alimentar e ação climática. A intensificação sustentável tornou-se estratégia central para ampliar a produção sem pressionar ecossistemas naturais.
Agricultura de precisão, melhoramento genético e biotecnologia elevam a eficiência por hectare, enquanto os sistemas integrados de produção, que podem combinar lavoura, pecuária e floresta em uma mesma área, recuperam solos degradados, diversificam renda e sequestram carbono. A pecuária regenerativa transforma passivos em ativos produtivos: a recuperação de pastagens degradadas pode dobrar ou triplicar a produtividade, enquanto a terminação intensiva acelera a engorda de florestas.
A rastreabilidade das cadeias produtivas e critérios de desmatamento zero consolidam a integração entre produção e conservação, fortalecendo a contribuição da agricultura tropical à estabilidade climática global. dos animais, reduz o tempo até o abate e diminui emissões de metano por quilo de carne produzido. Os dejetos animais, quando tratados em biodigestores, geram biogás e biofertilizantes, conectando a produção de alimentos à geração de energia limpa e à economia circular. A bioenergia consolida essa integração entre agricultura e transição energética.
O agronegócio brasileiro responde por cerca de 30% da oferta interna de energia, transformando biomassa, resíduos e cana-de-açúcar em etanol, biodiesel, biogás e bioeletricidade. No ambiente tropical, a possibilidade de usar de forma mais eficiente os solos agrícolas com a realização da segunda safra e manutenção do solo coberto todo o ano garantem uma intensificação sustentável com substancial incremento no indicador de frequência de cultivo (cropping frequency) da FAOSTAT.
Os bioinsumos completam esse ciclo de inovação: a Fixação Biológica de Nitrogênio substituiu fertilizantes sintéticos em mais de 40 milhões de hectares de soja, gerando economia de bilhões de dólares e evitando milhões de toneladas de emissões. Florestas plantadas fornecem matéria-prima renovável para celulose, energia e construção, sem pressionar biomas nativos. Esse portfólio de soluções demonstra que produtividade, descarbonização e bioeconomia podem avançar juntas, consolidando a agricultura tropical como vetor da transição verde.
CRÉDITO RURAL VERDE: MOTORES DA TRANSFORMAÇÃO EM ESCALA
A transição climática no campo depende de instrumentos financeiros que viabilizem a adoção de práticas sustentáveis em larga escala. O crédito rural, estruturante da agricultura brasileira desde 1965, ganhou protagonismo ao priorizar práticas de baixo carbono por meio do Plano ABC+. Linhas de financiamento voltadas à recuperação de pastagens, sistemas integrados, irrigação eficiente e tecnologias adaptativas ampliam não apenas a mitigação, mas também a resiliência produtiva de milhões de agricultores.
O cooperativismo fortalece esse movimento ao integrar crédito, assistência técnica e acesso a mercados, democratizando oportunidades e transformando recursos em prosperidade compartilhada. Com mais de 17,3 milhões de associados e presença em mais de 57% dos municípios brasileiros, as cooperativas consolidam-se como elo essencial entre políticas públicas e produtores, ampliando o alcance da agricultura de baixo carbono e promovendo inclusão financeira e produtiva.
Juntos, crédito rural e cooperativismo aceleram a transformação sustentável do campo, demonstrando que a transição verde exige não apenas tecnologia, mas também instrumentos que garantam acesso equitativo às soluções climáticas.
DESAFIOS E CAMINHOS PARA AMPLIAR A TRANSFORMAÇÃO
A agricultura tropical brasileira consolidou um repertório robusto de soluções que respondem simultaneamente aos desafios alimentar, energético, climático e social. Transformar esses avanços em mudança sistêmica e em larga escala, porém, exige superar desafios estruturais que ainda limitam sua expansão. O financiamento é o primeiro gargalo: embora políticas como o Plano ABC+ estimulem práticas sustentáveis, os recursos públicos disponíveis não correspondem à escala da transição necessária.
Mecanismos financeiros inovadores, como blended finance, títulos verdes, pagamentos por serviços ambientais e certificações de baixo carbono, são essenciais para ampliar o acesso ao capital e viabilizar a recuperação de milhões de hectares de pastagens degradadas. A governança fundiária também é decisiva: a ausência de regularização aumenta a insegurança jurídica, a grilagem e o desmatamento ilegal, desafios que precisam ser superados para assegurar uma transição justa e duradoura.
Pequenos produtores, responsáveis por parte expressiva da segurança alimentar e das economias locais, enfrentam limitações estruturais no acesso a crédito, assistência técnica e mercados. Incluí-los nas decisões sobre agricultura e clima fortalece capacidades adaptativas e equilibra a distribuição dos benefícios da transição verde. Valorizar serviços ecossistêmicos, incorporando ativos naturais ao balanço das propriedades, facilita o acesso ao crédito e incentiva práticas conservacionistas, exigindo metodologias aprimoradas, mecanismos efetivos de PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) e cadeias rastreáveis e livres de desmatamento.
Ciência, inovação e redução de entraves regulatórios aceleram a adoção de soluções produtivas, ampliam oportunidades via mercado de carbono e cooperação internacional, e consolidam a bioenergia como vetor de integração entre agricultura e energia limpa. Enfrentados de forma articulada, esses desafios convertem-se em motores de transformação, ampliando a contribuição da agricultura tropical às agendas globais de mitigação, adaptação, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável.
AGRICULTURA E SISTEMAS ALIMENTARES NA AGENDA CLIMÁTICA GLOBAL
Da produção ao consumo, os sistemas alimentares determinam a segurança de bilhões de pessoas — e sua transformação é decisiva para erradicar a fome, combater a pobreza e enfrentar as mudanças climáticas. Esses sistemas são vulneráveis às mudanças climáticas, instabilidades geopolíticas e desigualdades socioeconômicas. Torná-los mais sustentáveis e resilientes exige ação coordenada de agricultores, governos, indústrias, instituições financeiras e consumidores.
Essa transformação deve integrar produção, meio ambiente e nutrição para garantir alimentos saudáveis, respeitar os limites do planeta e avançar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A agricultura tropical pode liderar essa transformação. Com base em ciência, tecnologia, inovação, práticas regenerativas, políticas públicas robustas e cooperação internacional, os trópicos podem liderar um modelo que une produção de alimentos, bioenergia e ação climática.
Eventos climáticos extremos já comprometem safras, elevam preços e intensificam a insegurança alimentar que atinge 730 milhões de pessoas globalmente31. Iniciativas brasileiras como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) demonstram que políticas de compras públicas podem fortalecer a agricultura familiar, aumentar renda e promover alimentação saudável.
A rastreabilidade fortalece essa agenda: o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos e o programa Agro + Sustentável reforçam a transparência e a conformidade com regulamentações internacionais como o Regulamento Europeu de Produtos Livres de Desmatamento (EUDR)32. A trajetória das negociações climáticas reconheceu progressivamente a importância da agricultura e dos sistemas alimentares.
O Koronivia Joint Work on Agriculture (KJWA), adotado na COP23 em 2017, inaugurou um espaço específico para o setor nas discussões multilaterais. O Sharm el-Sheikh Joint Work (SJWA), estabelecido na COP27 em 2022, orientou o debate para a implementação de ações concretas, priorizando abordagens holísticas e acesso a financiamento climático.
A COP28 consolidou essa agenda com a Emirates Declaration on Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems and Climate Action, que recebeu adesão de mais de 150 países e mobilizou ao menos 7 bilhões de dólares. Iniciativas como a Parceria FAST (Food and Agriculture for Sustainable Transformation) e a Harmoniya reforçam a cooperação internacional ao conectar governos, setor privado e sociedade civil em torno de financiamento climático, conhecimento técnico e diálogo político33,34.
O desafio agora é implementar ações concretas em escala: acesso a financiamento, capacitação técnica, inovação, reconhecimento dos serviços ecossistêmicos, regularização fundiária e inclusão de pequenos produtores são etapas essenciais para transformar compromissos em realidade. A COP30, em Belém, representa oportunidade histórica para consolidar esse movimento.
Com um eixo dedicado à transformação da agricultura e dos sistemas alimentares, a conferência pode articular atores públicos, privados e da sociedade civil. O foco deve estar em fortalecer a resiliência alimentar, impulsionar energias renováveis incluindo biocombustíveis sustentáveis, e reduzir emissões por desmatamento. Também é essencial promover recuperação de áreas degradadas e fomentar comércio sustentável que evite medidas unilaterais prejudiciais à segurança alimentar.
AÇÕES PROPOSITVAS À AGRICULTURA TROPICAL E O DESAFIO DA AÇÃO CLIMÁTICA GLOBAL
Ao longo das últimas Conferências das Partes (COPs) da UNFCCC, a agricultura permaneceu como um tema sensível, permeado por controvérsias e resistências políticas, especialmente no que tange à sua relação com as emissões de gases de efeito estufa (GEE), o desmatamento e as externalidades ambientais. Historicamente, o debate foi dominado por narrativas voltadas à mitigação e à conversão do uso da terra, com forte pressão regulatória sobre países agrícolas e tropicais.
Contudo, nas COPs mais recentes, especialmente a partir do Programa de Trabalho Conjunto de Koronivia sobre Agricultura (COP23–COP27), do Sharm el-Sheikh Joint Work on Implementation of Climate Action on Agriculture and Food Security (COP27), da Food and Agriculture for Sustainable Transformation (FAST) Partnership (COP27), da UAE Declaration on Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems and Climate Action (COP28) e, mais recentemente, da Iniciativa Climática Baku Harmoniya para Agricultores (COP29), houve avanços concretos no reconhecimento do papel estratégico da adaptação na agricultura, para fortalecer a segurança alimentar e a resiliência climática.
Entretanto, ainda não foram consolidados mecanismos robustos, previsíveis e vinculantes de financiamento climático específico para o setor nos países em desenvolvimento. Além disso, a COP29 estabeleceu, por meio do Baku Adaptation Roadmap, um caminho claro para o desenvolvimento de indicadores de adaptação aplicáveis aos sistemas agroalimentares, bem como reforçou o compromisso de que o Novo Objetivo Coletivo Quantificado de Financiamento Climático (NCQG) (pactuado pelos países desenvolvidos com meta de US$ 300 bilhões anuais até 2035 e visando alcançar US$ 1,3 trilhão/ano a partir de 2030 com contribuições globais) deverá incluir atenção especial às necessidades dos sistemas agroalimentares e das comunidades rurais vulneráveis.
Esse entendimento foi reforçado pela Food and Agriculture Organization (FAO, 2025) ao apontar que 94% das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) mencionam os sistemas agroalimentares como prioridade para adaptação, e 91% para mitigação. O sucesso da COP30 para a agricultura transcende a defesa setorial ou reativa. Trata-se de uma oportunidade histórica de reposicionar a agricultura, especialmente na região tropical, como eixo estruturante das soluções climáticas globais, conciliando segurança alimentar, segurança energética, desenvolvimento rural sustentável e tecnologias de baixa emissão de carbono, sob uma abordagem baseada em inclusão produtiva, inovação, mitigação, adaptação e reconhecimento da diversidade dos sistemas produtivos tropicais.
A 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), em Belém (PA), chega com a mensagem clara e o propósito firme de demonstrar que a agricultura tropical é parte central da solução climática global. Em um momento em que o mundo exige soluções comprovadas este evento inaugura a transição da “era da negociação” para a “era da implementação”, conforme orientado pelos resultados do primeiro Balanço Global (Global Stocktake, GST-1) do Acordo de Paris.
UMA PROPOSTA DOS TRÓPICOS PARA O MUNDO
As práticas de agricultura e pecuária regenerativa representam a vanguarda da ação climática no setor agroalimentar. Elas vão além da mitigação tradicional, ao integrar restauração da saúde do solo, conservação da biodiversidade, uso eficiente da terra e inclusão produtiva. Esse novo paradigma combina sustentabilidade ambiental, rentabilidade econômica e resiliência climática, formando.